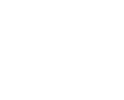Braz, Adão, Hermenegildo, Porcino, Estevão, Aprigio, João, Mizael, Joaquim, Adão, Ludgero, Manoel, José Pequeno, Tiburcio, Maria, Domingas, Theodolinda, Roza. No dia 9 de julho de 1887, todos esses – apenas parte dos escravos da dona de taverna Raimunda Porcina de Jesus -, foram libertos em Salvador. Em seu testamento, a mineira radicada na Bahia, morta aos 62 anos, deixava, para eles, pelo menos dez imóveis.
O ato de Raimunda Porcina – uma das figuras curiosas da história da Bahia, apontada como cozinheira e até como primeira empresária do ramo musical no país – veio antes mesmo da abolição da escravatura, decretada em 13 de maio do ano seguinte, com a Lei Áurea. O testamento dela é um dos documentos raros que estão no acervo da Santa Casa de Misericórdia da Bahia, em Nazaré.
Ao todo, são mais de 1.850 livros que remetem à história da entidade, escritos entre 1629 e até o século XXI, além de mais de mil documentos avulsos. São documentos que revelam fatos históricos do estado e do país e que, como é consenso entre historiadores, ajudam a entender o presente. No mês da Consciência Negra, o CORREIO visitou o centro de memória e teve acesso aos arquivos, que revelam como era a condição dos negros nos primeiros séculos de Salvador.
Além de testamentos, há também documentos como o assinado pelo ex-provedor da Santa Casa Francisco José Godinho. Em 1858, ele deixou uma quantia destinada à instituição para que, a cada ano, a entidade lançasse um edital público para comprar a alforria de três crianças com idades de até três anos.
No ano seguinte, foram alforriadas a menina Estelita, de apenas 5 meses de idade, filha de Severina; Isabel, filha de Maria Emília da Costa, e Liberata, filha de Maria. Por cada uma das crianças, era pago o valor estipulado pelo senhor em questão – em geral, variava entre 100 mil e 200 mil réis. Todas as transações estão documentadas nos livros da Santa Casa.
A maioria está em sua forma original, mas mais de 20 mil páginas já estão digitalizadas (o que corresponde a três coleções).
“Essa documentação é preponderante para entender a formação da cidade e do própria estado”, diz a coordenadora do Centro de Memória da Santa Casa da Bahia, Rosana Santos.
Testamento
Raimunda Porcina não tinha filhos, nem netos. Nunca casou. Natural de Rio Pardo, em Minas, seguiu para a Bahia na rota do ouro. Inicialmente, morou na região de Mucugê, na Chapada Diamantina, até vir para Salvador. Por anos, manteve uma banda formada pelos próprios escravos: Os Chapadistas (que lhe rendeu a própria alcunha de Raymunda Porcina, a Chapadista).
A banda, “empresariada” por ela, era contratada para tocar em festas de largo, festas de santo e outros eventos públicos. Os escravos, segundo Rosana, eram autodidatas na música. Para eles, deixou casas e sobrados para que vivessem. Outras de suas propriedades deveriam ser alugadas e a renda dividida entre todos, como uma espécie de pensão.
À Santa Casa, coube administrar o aluguel e o repasse. Após a morte dos escravos, os imóveis passariam para a instituição. “O que a gente tem aqui é que, numa situação de morte, ela se preocupou com a alforria e a Santa Casa entrou na mediação do aluguel dessas casas”, diz Rosana.
Entre as transcrições de testamentos no acervo da Santa Casa, destacam-se os senhores que agiam como Porcina. É difícil, porém, dizer o motivo. “Essa questão de testamento é muito subjetiva, porque vai muito da vontade da pessoa. Os motivos são variados, mas é comum que alguns digam que a decisão é ‘pelos bons serviços prestados”.
Não era raro que senhores que não tinham herdeiros deixassem seus bens para os escravos – como aconteceu com Raimunda. No entanto, como pondera o historiador Walter Fraga, professor da Universidade Federal do Recôncavo Baiano (UFRB), na maioria dos casos, os senhores os deixavam não como proprietários, mas como usufrutuários.
“O caso dela (de Raimunda Porcina) foi uma excentricidade”, diz Fraga, que está desenvolvendo uma pesquisa sobre os ex-escravos dela. Em diferentes ocasiões, o historiador recorreu ao acervo da Santa Casa – como entre 2003 e 2004, período em que estudou sobre o destino dos ex-escravos após a abolição.
Ele explica que o arquivo da Santa Casa é rico em informações que vão desde a compra de alimentos pela instituição até a forma de remuneração dos trabalhadores. Para ele, esses registros ajudam a entender o passado. No caso específico da Santa Casa, ajuda a entendê-la como uma instituição que tinha uma presença social, como ela atuava na sociedade.
“A partir daí, é possível colher informações sobre a forma como as pessoas viviam, como enfrentavam a situação da pobreza, como se alimentavam”, exemplifica.
Escravos da Santa Casa
A própria Santa Casa de Misericórdia da Bahia tinha seus escravos. Como em outras tantas instituições da época, os escravos eram responsáveis por serviços de limpeza, mas especificamente no hospital e em locais como o asilo da roda dos expostos (que acolhia crianças abandonadas) e o asilo de mendicidade.
A eles, também eram destinados trabalhos em obras (nas funções de pedreiros, marceneiros e carpinteiros) e nos cemitérios – como coveiros, cuidavam de tumbas e carregavam os mortos.
“Muitos dos prédios da Santa Casa foram adquiridos a partir de doações de benfeitores, a exemplo de (Raimunda) Porcina. Essas casas precisavam regularmente de reparos, que eram feitos pelos escravos, embora a Santa Casa também contratasse trabalhadores livres”, explica o professor Walter Fraga.
A Santa Casa alforriou seus escravos em 1872, por motivos que ainda não são muito claros. De acordo com a pesquisadora do Centro de Memória, Diana Souza, 13 escravos foram alforriados pela entidade. “A Santa Casa participou desse processo de formação do trabalho livre”, explica ela, que desenvolve uma pesquisa de mestrado sobre o tema.
Assistência
Entre os mais de 32 mil doentes que deram entrada no Hospital da Santa Casa da Misericórdia, entre 1823 e 1851, apenas 3,2% eram escravos. O dado faz parte de um estudo desenvolvido pela pesquisadora Renilda Barreto, professora do Cefet do Rio de Janeiro e doutora em História das Ciências e da Saúde, sobre o cotidiano da população negra de Salvador.
A partir dos livros de registros da instituição, ela descobriu que o hospital atendeu 28% de europeus e 60% de doentes brasileiros. Desses, mais da metade eram negros, mas somente os 3,2% eram escravizados, ainda que a Santa Casa atendesse todos os pacientes.
Ela explica que, nos últimos anos, a historiografia identificou que donos de escravos costumavam montar, em suas propriedades, um aparato específico para cuidar da saúde dos escravos – daí os baixos índices no Hospital da Misericórdia.
“Nas fazendas, tinham hospitais, enfermeiros, médicos contratados. E, nas cidades, ainda não foi estudado, mas conhecemos o registro de casas de saúde com enfermarias para escravos. A gente começa a perceber que a assistência de saúde dos escravos no Brasil começa a fazer parte do sistema escravocrata”.
Na unidade de saúde da Santa Casa, porém, as doenças mais comuns para os negros eram as descritas como tísica (tuberculose), doenças venéreas, loucura, colite (inflamação no intestino), feridas, reumatismo, tétano, invalidez e moribundo – todas as nomenclaturas são as utilizadas nos registros da época.
As mais fatais, por sua vez, foram a tuberculose, anasarca (inchaço de todo o corpo), congestão cerebral e gangrena. Havia, ainda, vítimas de açoitamento, queimadura, fratura, facada no peito, degolamento, contusão no rosto, mutilação das mãos. “O tratamento não era gratuito. Havia a caridade e era um hospital público, mas era pago”.
Para ela, um dos dados mais reveladores descobertos nos arquivos da Santa Casa foi a diferença entre as taxas de mortalidades entre brancos e negros. Para os brancos – principalmente, trabalhadores marítimos europeus –, o índice era de 3%, enquanto 4,3% das mulheres brancas morriam.
Entre os negros livres, a taxa era 10 vezes maior: 30,2%. As mulheres negras livres morriam mais ainda: 44,4%. “Para pensar o sistema de saúde no Brasil, é preciso reconhecer que temos assimetrias que se sedimentaram ao longo de séculos e precisamos discutir essas desigualdades e desnaturalizá-las”.
Acervo passou a ser mais conhecido após a década de 1970
Até meados da década de 1970, a maioria dos arquivos do acervo da Santa Casa de Misericórdia da Bahia era desconhecida. De acordo com o jornalista e pesquisador Nelson Cadena, até esse período, boa parte dos pesquisadores baianos só costumava buscar documentos históricos em locais como o Arquivo Público do Estado e o Arquivo Municipal.
Muito disso se deve ao fato de que os documentos não estavam completamente organizados e poucos pesquisadores, a exemplo de Pedro Calmon, tinham acesso ao acervo. Além disso, esses poucos pesquisadores não se dedicavam aos arquivos sobre escravidão, mas a outros temas.
Isso mudou depois que o historiador galês Anthony John R. Russell-Wood conduziu pesquisas sobre a Santa Casa da Bahia na década de 1960.
“Ele fez um texto e dizia que os pesquisadores baianos ainda não tinham atentado para a importância dos arquivos da Santa Casa. Ele levantou essa bandeira na década de 1960”.
Depois, em 2006, com a criação do Centro de Memória da entidade, esses arquivos ganharam um local específico. Segundo Cadena, há diversos escritos que só podem ser encontrados na Santa Casa, a exemplo dos livros de Banguê.
“Do ponto de vista de história social, é (um arquivo) importantíssimo. É um dos mais importantes e mais bem conservados da Bahia, que só podemos equiparar com o do Mosteiro de São Bento”.
Consultar o acervo da Santa Casa é gratuito – basta ir ao local, que fica na Pupileira, em Nazaré. Funciona de segunda-feira a quinta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h, e às sextas das 8h às 12h e das 13h30 às 16h.
Livros sobre enterros de escravos são patrimônio da Unesco
Com marcas – feitas a ferro quente – no peito direito e no peito esquerdo, três negros da nação Angola morreram na embarcação Vênus. Os três, que estavam sob a responsabilidade de Francisco Pereira Dutra, sequer chegaram a Salvador. Não há registros de seus nomes, mas há uma reprodução das marcas que carregavam.
Essas informações fazem parte dos chamados Livros de Banguê, uma coleção com 11 manuscritos que apresentam dados sobre todos os escravos enterrados entre os séculos XVIII e XIX. Os livros receberam certificado de memória mundial pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), em 2009.
Na época, era a Santa Casa quem enterrava os escravos – a maioria no Cemitério do Campo da Pólvora. A localização exata desse cemitério é desconhecida, uma vez que, em 1844, ele foi substituído pelo Cemitério Campo Santo, na Federação. Entre 1742 e 1856, período que compreende os manuscritos, a estimativa é que cerca de 80 mil escravos tenham sido enterrados pela Santa Casa, de acordo com o jornalista e pesquisador Nelson Cadena – uma média de 650 por ano.
“O escravo era um ser humano, mas não era. Era uma mercadoria. Então, tinha que estar registrado quem era o proprietário, qual era o navio em que veio, qual era a nação, de qual lugar da África. Eles eram ferrados como se marcam o gado e muitos chegavam mortos aqui da viagem”, explica.